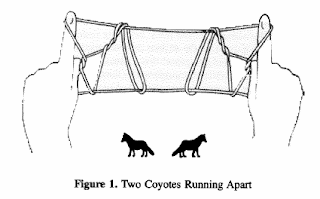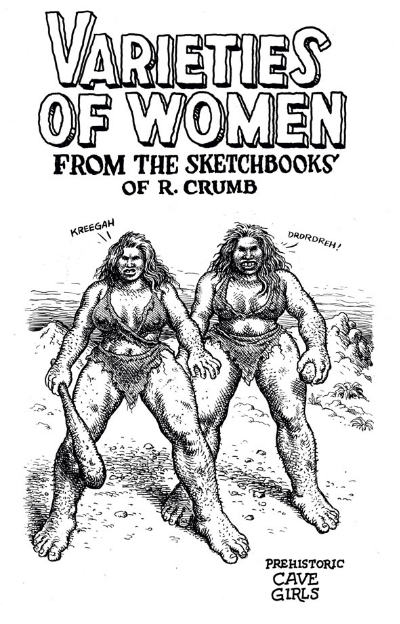“Seeds rather than forests”
por ANTÓNIO CERVEIRA PINTO
Na segunda metade de 1997 imaginei um mapa interactivo do meu país, geo-referenciado, ligando uma navegação virtual sobre o mapa orto-fotográfico do território às moradas que então cresciam já a uma velocidade exponencial na Internet. O projecto viria a ser realizado para a EXPO’98 e baptizado com o nome Portugal Digital. Consultei e reuni para o efeito várias instituições portuguesas: o Instituto Superior Técnico, a Universidade Nova, o Centro Nacional de Informação Geográfica e o Instituto Geográfico do Exército. Para compilar e computar o projecto contei com Joaquim Muchaxo, entre uma plêiade de engenheiros informáticos que concretizaram o projecto.
Para calcular e visualizar em tempo real todos os processos de chamada e compilação de dados foi necessário adquirir um super-computador da Silicon Graphics, o SGI Onyx2 Reality Engine, com 4GB dememória RAM, e um processador de 195MHz. O preço desta máquina, em 1998, rondou os 600 mil euros! O mesmo poder de realização não custa hoje, 13 anos passados, mais do que 3 mil euros, ou seja, 200x menos! Medindo esta revolução tecnológica de outro ângulo, por exemplo, o da população virtual da Internet, verificamos que existiam 147 milhões de utilizadores em 1998, enquanto hoje este número subiu para 1.966.514.816, ou seja, 13x mais.
>A revolução tecnológica em curso deu lugar, em pouco mais de uma década, a um tecido cognitivo e sensorial híbrido, digital-interactivo, meio humano, meio máquina, cujos graus de liberdade lhe conferem enorme elasticidade linguística e plástica e uma crescente, mesmo invasiva, ubiquidade. A partir de uma triangulação de satélites de comunicações esta nova pele sobre-humana cobre o planeta com uma película de meta-realidade inteiramente inesperada e transformadora. Curiosamente, em 1999, um ano depois da apresentação na EXPO ‘98 do protótipo incógnito do que em 2005 viria a emergir, fruto de outra aventura, como Google Maps, André Sier, então estudante do Ar.Co, apresentava o seu primeiro projecto de arte computacional, “0 0 255”, usando o Unreal, um jogo de tiro na primeira pessoa (FSP), desviando-se embora claramente da sua ideologia. Enquanto os jogos de computador e “video games” seguem modelos icónicos e narrativos oriundos do imaginário e da cultura popular urbana, derivando não raras vezes do vasto mundo de aventuras da banda desenhada, do cinema de animação e da literatura de ficção científica, a descarnagem típica dos mundos virtuais interactivos de André Sier, ainda que tirando partido máximo dos motores computacionais, algoritmos, bibliotecas e linguagens de programação disponíveis, apontam claramente para uma outra tradição cultural: a da estética essencialista e analítica de um dos mais importantes segmentos da arte moderna dos século XIX e XX: a tendência para a abstracção.
Ao contrário das fantásticas desconstruções realizadas pelos Jodi a partir de jogos como Wolfenstein 3D, Quake, Jet Set Willy e Max Payne2, André Sier faz uma abordagem, por assim dizer, mais construtivista. O seu distanciamento relativamente ao que poderíamos chamar entretenimento, cultura popular, arte comercial ou indústria criativa, não ocorre sob um regime de dissensão desta espécie de realidade alienada, que a ideologia “hacker” dos Jodi tão bem distorce e escandalosamente escancara, mas antes como construção de novos mundos possíveis usando as mesmas ferramentas genéticas que a indústria utiliza para fins tão distintos quanto a arte da guerra e a cultura popular agonística. Observando, como venho observando há anos, a obra de Sier, constato que a mesma é, em si mesma, um progressivo historial de sedimentação e expansão generativa, acumulando estratégias, algoritmos, possibilidades, desígnios, gramáticas, bibliotecas, actores, ambientes e narrativas — constituídas ou potenciais. As peças evoluem por séries, precisamente porque são mundos de possibilidades autónomas, que podem iterar e ganhar complexidade, profundidade, definição e cor, por processos automáticos, aleatórios, genéticos e interactivos — endógenos e/ou exógenos. O que torna tão fascinantes os mundos imersivos ordenados por André Sier é, por assim dizer, a íntima correlação existente entre a deriva intuitiva das suas construções oníricas e a “techné” puramente mental e lógica rigorosamente prosseguida por alguém que na circunstância do seu próprio processo criativo consciente não pode deixar de ser considerado um artesão, ou um técnico, comprometido com a necessidade de dominar uma disciplina de linguagem, para melhor lidar com essa matéria que invariavelmente resiste à modelação, à palavra, e ao gesto final que antecede o nascimento de uma obra de arte. No caso, a massa da criação são zeros e uns, ou mais exactamente, processos combinatórios binários baseados em conjuntos de 4-bits, 16-bits, 32-bits, 64- bits, 128-bits, etc., cuja activação depende de um “bang” — eco discreto de um “big bang” primordial [Mark Whittle: Big Bang Acoustics].
Não Newtoniana (8x) from Andre Sier on Vimeo. André Sier: continuum
A evolução genética dos produtos decorrentes das instruções cumpridas e das possibilidades algorítmicas depende à partida de um desenho estratégico, ou numa perspectiva deísta, de um demiurgo, ou seja, daquele que está entre Deus e a Coisa Realizada. A longa tendência analítica da arte moderna chegaria durante o século passado a dois momentos críticos aparentemente antitéticos, a partir dos quais, supôs-se então, a arte ocidental caminharia inexoravelmente para uma fase de decadência de índole revivalista e neo-académica (o que efectivamente ocorreu). Esses dois momentos ficaram conhecidos por minimalismo e conceptualismo. Na realidade, foram as duas faces de uma mesma moeda: a redução fenomenológica da arte enquanto objecto, ou coisa no espaço-tempo, e enquanto linguagem. Desta fenomenologia diletante nasceu, enfim, uma experiência cultural cosmopolita oscilando entre o misticismo lógico e a voz da retórica. E no entanto, as coisas tinham corrido bem até Carl Andre, Donald Judd, Dan Flavin, da banda minimalista, e até Sol Lewitt, Joseph Kosuth e Dan Graham, da banda conceptual. Tragicamente bem!
De algum modo, podemos hoje dizer que a tendência geral para abstracção que acelerou a partir do pós-impressinismo analítico (sobretudo de Monet e Seurat), do cubismo, do suprematismo, do neoplasticismo e da arte abstracta em geral, chegou ao fim durante as décadas de 1960-1970 com a emergência e queda do minimalismo e da arte conceptual, prisioneiros ambos de um reducionismo mais metafórico do que verdadeiramente intelectual. Deixaram, porém, uma herança que hoje autores como André Sier podem legitimamentere tomar invocando a acuidade filosófica e estética do património inestimável da arte europeia que o Renascimento indiscutivelmente encetou, e que o Racionalismo, o Positivismo e o Idealismo Alemão elevaram depois a patamares de complexidade e robustez metafísica insusceptíveis de regresso às narrativas religiosas que dominaram o sentimento e os procedimentos da arte durante centenas de milhar de anos.
A literatura, as artes em geral e a própria filosofia chegaram durante o século 20, simplificando, aos graus zeros dos respectivos paradigmas constitutivos e culturais. Desnudadas as formas até à abstracção mais radical — essa espécie de regresso à geometria e à lógica que dominou a evolução das vanguardas artísticas e intelectuais europeias e americanas, de Monet a Roland Barthes — restou então o tempo da anatomia dos processos generativos das várias linguagens, da psicanálise dos autores e da sociologia da recepção.
Em 1936 o matemático, lógico e criptólogo Alan Turing já havia publicado a descrição de uma “experiência mental” a que chamou “a(utomatic)-machine” e que acabaria por ser conhecida mais tarde pelo nome de Máquina de Turing. Uma “Universal Turing Machine” (UTM) é uma máquina que consegue simular qualquer outra máquina, e um“teste de Turing” é uma forma de avaliação da capacidade de uma máquina para exibir um comportamento inteligente.
Durante a segunda guerra mundial Turing foi recrutado por Wiston Churchill para ajudar os serviços secretos militares ingleses a decifrar as mensagens codificadas da marinha de guerra alemã, cuja encriptação estava a cargo de duas máquinas electromecânicas baseada em rotores, a Enigma e a Lorenz (esta última estritamente dedicada à encriptação das mensagens do alto comando militar alemão). Os submarinos alemães foram à época responsáveis pelo afundamento de milhares de navios, nomeadamente civis, que transportavam pessoas, víveres, equipamentos e diverso material (nomeadamente de guerra) entre o continente americano e a Europa em guerra. As máquinas de encriptação alemã, cuja origem próxima datam da primeira guerra mundial (1914-18), pareciam imbatíveis pelos criptologistas humanos aliados. Foi então que Alan Turing, integrado já na equipa de criptólogos de Bletchley Park, também conhecido por Station X, e as suas teorias sobre números computacionais e máquinas automáticas deixaram uma marca indelével nos procedimentos que levaram o Post Office Electronics Engineer Tommy Flowers a desenhar e construir finalmente a máquina capaz de emular a codificação operada pelos rotores da Lorenz e assim decifrar em 1944 as mensagens do alto comando militar alemão nas vésperas do desembarque aliado na Normandia, conhecido por Dia-D.
Colossus, Mark I e Mark II, foram assim as primeiras duas máquinas electrónicas de processamento digital de informação alguma vez construídas para efeitos práticos, e as pioneiras absolutas dos actuais computadores. Esta breve incursão histórica é importante para se compreender o salto epistemológico fundador daquilo a que com propriedade poderíamos chamar o início da era pós-moderna, isto é, o momento a partir do qual a compreensão e a manufactura humana dos mundos possíveis transitou, pelo menos parcialmente, do trabalho meramente humano, físico e intelectual, para o trabalho das máquinas inteligentes. Mais do que pintar florestas ou construir mundos, como disse Brian Eno, numa formulação particularmente elegante e poética, o criador dos tempos pós-modernos, espécie de monista agnóstico e pós-industrial, dedica-se a semear princípios generativos, dos quais espera a emergência de novas constelações harmónicas — “seeds rather than forests”.
Os autómatas celulares de John Conway, desenvolvidos por Bill Gosper e Stephen Wolfram, entre outros, os algoritmos genéticos de Karl Sims, os enxames de Craig Reynolds, são alguns dos paradigmas da nova cultura emergente, onde André Sier, e muitos outros criadores contemporâneos, ou melhor dito, pós-contemporâneos (na medida em que as suas criações não são “actuais”, mas potenciais, incorporando estados passados, presentes e potencialmente futuros), claramente se encontra e é, entre os mais jovens artistas cognitivos e computacionais portugueses, um dos seus mais sérios, originais e notáveis protagonistas.
Existe ainda um problema de aprendizagem por resolver no que toca à recepção dinâmica das obras generativas e interactivas que têm vindo a ser criadas fora da disciplina estrita da música e dos ambientes e instalações puramente dirigidas ao ouvido. A responsabilidade por este atraso cultural deve-se sobretudo à inércia conservadora do mundo museológico e galerístico da chamada “arte contemporânea”. Enquanto a cultura electrónica popular progrediu a uma velocidade exponencial, como a importância sociológica, económica e estratégica da indústria de jogos incontroversamente atesta, as artes generativas e cognitivas em geral persistem ainda encapsuladas numa espécie de limbo “pré-artístico”, como se fossem seres estranhos a quem não é ainda permitido entrar de pleno direito no mundo “adulto” da arte. Este atraso institucional vai acabar por ser superado, provavelmente depois de um grande “bang”, cuja ocorrência creio estar ao virar da esquina.
Quando menos esperarmos, as artes generativas e cognitivas entrarão pelos nossos neurónios dentro com a mesma aparente naturalidade, velocidade e irresistível impregnação de um algoritmo tão revolucionário quanto aquele que deu origem ao nascimento do Google. Os trabalhos preparatórios estão há já longa data em curso. E os mundos filosoficamente possíveis de André Sier fazem seguramente parte do enxame que produzirá a próxima grande transformação da τέχνη (téchne).
Deixo, por fim, neste breve escrito introdutório à exposição que André Sier apresenta no Museu de São Roque (Lisboa), algumas noções a ter em conta quando vemos, ouvimos, sentimos, percebemos e interagimos com qualquer das peças que fazem parte de uunniivveerrssee.net”:
- O ambiente de percepção é multimodal: espaço, objecto, som, imagem, interacção, retroacção, fantasma, conexão, rede, partilha, suspensão, intervalo, continuação, potencial.
- “uunniivveerrssee.net” não é um mundo finito, mas uma cosmogonia de possibilidades, computacionalmente gerada sobre bases digitais com várias extensões (32-bits e 64-bits). Neste caso, as frases “fui ver a exposição do André”, ou “gostei das instalações do Sier”, são incompletas e descrevem apenas a memória de uma percepção muito incompleta e de duração mínima da realidade potencial inscrita nas obras de arte oferecidas, cuja apreensão exige, na realidade, o tempo aparentemente infinito dos jogos.
- As criaturas impressas e retiradas do mundo digital de possibilidades inscritas ou desencadeadas pela interacção humano-máquina — um jogo, individual ou colectivo, aleatório ou construído, partilhado ou simplesmente cumulativo de possibilidades — são a prova perceptiva, sensorial e física de uma emergência real, bem mais para cá, portanto, do que os universos meramente ficcionais ou simplesmente virtuais da pré-história da arte generativa e cognitiva em geral.
Maio de 2011
Copyright © 2011 by António Cerveira Pinto